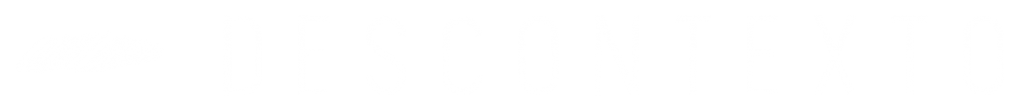Quem viu The Crown deve se lembrar no quinto episódio da coroação da rainha Elizabeth. A decisão de fazer o espetáculo televisionado foi recebida com grande polêmica pela classe política inglesa, principalmente pelo então primeiro ministro Winston Churchill. Sendo a Monarquia a “representação mais próxima de Deus na terra”, a televisão “vulgariza” a cerimônia da coroação, que é carregadíssima de símbolos religiosos. A imagem exibida para o mundo todo permitia que qualquer cidadão comum tivesse, pela primeira vez na história, acesso a uma cerimônia tão exclusiva. E onde já se viu um plebeu achar que está próximo de Deus? É claro que “plebeu”, é um termo um pouco irônico. A coroação se deu em 2 de junho de 1953, pouquíssimos pessoas possuíam televisão em suas casas naquele momento. Obviamente, só possuíam aqueles que tinham poder aquisitivo para adquirir o aparelho. Entre eles, a família Trump, liderada por Fred Trump, um imigrante irlandês. Em sua mansão em Nova Iorque, a esposa de Fred, Mary Anne, assistia incrédula no dia 2 de junho o que a televisão mostrava. Além da coroação de uma rainha, toda a nobreza e aristocracia inglesa, suas faces rosadas, suas vestimentas periclitantes, suas joias abissais e suas catedrais imponentes. O comediante Russel Peters diz que o inglês é a referência da etnia branca.
Perto de Mary Anne, o menino Donald Trump, então com 7 anos, acompanhava o encantamento de sua mãe, sentada em frente aquele aparelho de poucas polegadas. A transmissão da coroação de 1953, foi um grande marco na história da televisão mundial. Além do feito tecnológico, representava também um impacto imagético que alteraria as relações humanas para sempre. Agora, na sala de sua própria casa, você tinha uma janela para os lugares mais curiosos do mundo. Foi nesse universo que cresceu o menino Donald, sugere James Poniewozik, um dos mais influentes críticos televisivos dos EUA. No seu livro Audience of One, Donald Trump, Television and the Fracturing of America, ainda sem tradução para o português, o autor faz um paralelo sobre a história da televisão e a história da figura Donald Trump, que passou de herdeiro rico, à ícone pop, à apresentador de Reality Show, à presidente dos Estados Unidos.
Poniewozik argumenta que, antes de mais nada, precisamos lembrar que Donald Trump é uma figura. Assim como todos os “personagens” da televisão e da política. O ser humano por trás da figura, é incriticável, pois não o conhecemos. É claro que a figura construída sempre é reflexo da personalidade da pessoa, a não ser em casos satíricos como o comediante Andy Kaufman. Na política, essa narrativa nasceu antes até da televisão, como já foi apresentando por Orson Welles em Cidadão Kane.
“Os melhores e piores líderes se constroem a partir de histórias. Eles usam a linguagem de sua cultura – lenda, metáfora, arquétipos – para expressar o que a língua não consegue literalmente. Donald Trump é a evolução pós-moderna deste processo”, diz o autor.
A TV e o personalidade da imagem
Mas antes de chegar em Donald Trump, é preciso entender como que a televisão turbinou esse processo e abriu caminhos políticos que culminaram na grande onda da extrema direita da década de 2010. Sim, farei um paralelo com os excelentes argumentos de Poniewozik e a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da república, considerando a história da televisão brasileira.
John F. Kennedy não foi o primeiro a usar com maestria a televisão para propaganda política. Na campanha de 1952, Dwight Eisenhower também criou um anúncio que é tido como divisor de águas, um dos primeiros jingles políticos da televisão. Mas na campanha de Kennedy, em 1960, a televisão já estava consideravelmente mais popularizada. Mesmo a grande parte da população que não tinha televisores, tinha acesso a televisões em lojas, vitrines, bares, escritórios. Portanto, o jingle de Kennedy chegou em muito mais pessoas que o de Eisenhower. E o anúncio de Kennedy também funcionou como um definidor da imagem do candidato. Naquele momento, a imagem do homem bonito, jovem, confiante, invariavelmente branco, com a esposa símbolo sexual, havia tomado a política americana. A juventude de JFK representava renovação numa época em que o mundo estava pronto para sair de vez da ressaca do pós guerra e entrar em uma nova era. Os anos 1960 foram guiados pela televisão. E a televisão era guiada pelas notícias, pelo conteúdo e pela música.
Por mais adorados que fossem as estrelas do rádio, a televisão dava imagem aos ídolos. Os cantores jovens que tocavam nas rádios nos anos 1930, tinham uma audiência e cachês infinitamente inferiores do que as estrelas que emergiram com a tv, tais como Elvis e os Beatles. Nascia ali a cultura pop como conhecemos hoje, cujo pilar é a imagem. O consumo visual da música, passou a ser da mesma importância que o auditivo dela. Através de seus cabelos, maquiagens, figurinos, objetos de palco, guitarras e atitudes em entrevistas, artistas lançavam movimentos, criavam ideologias, provocavam debates sociológicos.
O Grande Hegemonizador
Poniewozik fala sobre como, até o início da tv à cabo, nos anos 1980 nos EUA, existiam apenas as televisões abertas. Eram poucos canais que, com o barateamento do equipamento, atingiram centenas milhões de cidadãos americanos nos anos 1970. Sendo assim, a televisão funcionava como um grande hegemonizador da população. Se haviam apenas três ou quatro canais, todos assistiam as mesmas coisas. Seriados ultrapassavam a marca de 100 milhões de espectadores, entre todas as classes sociais, etnias, regiões e preferências. A tv se tornava um grande instrumento de comunicação em massa. O que levou os produtores a criarem o conceito de LOP – Least Objectionable Progam, ou seja, o programa menos censurável o possível. Aquele programa que agrada a todos. Não possui extremos, nem opiniões fortes, nem aspectos provocadores. É engraçado, bonitinho e para a família ver junta. Tal como I Love Lucy.
“A comunicação em massa de maneira geral, e a TV em particular, mudam a relação das pessoas com o espaço. A introdução do telégrafo nos anos 1800 significam que a informação está desanexada da velocidade pela qual um corpo humano pode viajar.”
Com a televisão, a cultura de massa domina. Marcas passam a se tornar franquias. Cada segmento passa a ser dominado por poucas empresas. O fastfood se espalha na figura do McDonalds e da Coca-cola, carros se tornam “populares”, calçados passam a ser o definidor de estilos e a música o de personalidades. Chegam os shopping centers e organizam todo esse consumo e cultura de massa, trazendo milhares de pessoas para o mesmo prédio onde será possível encontrar todas as marcas necessárias. Essa proximidade física e informativa entre as pessoas, assim como a simplificação dos produtos limitados a poucas tendências e marcas, passa a pautar o consumo, gerando assim a “cultura da cópia”. Se o meu vizinho tem, se o meu colega de escola tem, se o meu parceiro de trabalho tem, eu também tenho que ter. Para essas mega empresas, a televisão era um investimento de retorno absoluto. Coloque uma propaganda de 30 segundos em um show de horário nobre, LOP, e pronto. No mínimo, o país inteiro conhecerá a sua marca e seu produto.
Nos anos 1970, isso se perpetuou, mas a televisão também passou a sofrer uma crise de conteúdo. O LOP já não dava mais tão certo. Os Waltons, Bonanza e afins agradavam a muitos, mas o público também começava a conhecer outras peças audiovisuais. O Poderoso Chefão I e II, Tubarão, Taxi Driver, Um Estranho no Ninho e muitos outros títulos da geração de diretores babyboomers, que passearam entre a contracultura e a nouvelle vague nos anos 1960, agora tomava as salas de cinema. Além de blockbusters como os citados acima, filmes mais cult também cativavam parte do público americano, como os de Cassavetes, Woody Allen, Polansky. Parte do público ficou mais exigente e, no começo dos anos 1980, começou-se a migrar para a televisão uma regra tida como certa pelos marketeiros americanos: mais vale 1000 leitores da New Yorker do que 1000 leitores da National Enquirer (revista de fofoca americana). Começava-se então a usar a demografia como uma arma para vender produtos específicos para públicos específicos. Foi nesse contexto, que começou a nascer nos Estados Unidos a televisão à cabo. A Home Box Office, HBO, por ser à cabo e não usar as ondas estatais de transmissão, não tinha que dar satisfação para o orgão regulamentador da TV americana. Assim, o canal não precisava se preocupar com nudez, palavrões e moralidade em seus programas. Estava tudo livre. Em poucos anos, a HBO começou a atrair um conteúdo narrativo mais complexo. O ápice desse processo foi a série The Sopranos, que no final dos anos 1990 foi um grande divisor de águas na TV internacional. Pela primeira vez, uma narrativa complexa e cinematográfica chegava na tv, o que quebraria paradigmas e abriria muitas portas para que o conteúdo audiovisual serializado pudesse atingir altos níveis artísticos e de complexidade.
A TV à cabo e o começo da Fragmentação
Também nos anos 1980, outras emissoras à cabo surgiram. Tais como a CNN, focada exclusivamente em notícias, a Fox e sua prima de notícias, a Fox News, também focada somente em notícias. A CNN e a Fox News foram as primeiras emissoras que exibiam notícias 24h. Começava ali um processo que James Poniewozik se referiu como a entretenimentização da notícia. Não havia nem começo, nem fim para as mesmas. Antes, argumenta o autor, repórteres iam atrás de acontecimentos e seus fatos e se não houvesse nenhum acontecimento, eles simplesmente esperavam algo acontecer. Agora, repórteres tinham que buscar histórias e notícias mesmo onde não houvesse acontecimentos. Porque a programação não podia parar. Hoje, na internet, vivemos um processo infinito. Não há um começo e um fim, como havia no jornal impresso. Se você for em qualquer site de notícias, pode passar lendo desde grandes novidades impactantes para todos, até os acontecimentos mais irrelevantes e inúteis. E assim que se estabeleceu nos canais de notícia. Se em um minuto se assistia sobre um atentado terrorista, no minuto seguinte se via a imagem do jacaré que invadiu a piscina de uma casa na Austrália. A tv à cabo começava a diferenciar os consumidores pela qualidade do conteúdo e interesse. Aqueles que pagavam a HBO tinham mais dinheiro, logo, eram mais intelectuais e assistiriam produtos mais sofisticados. Essa lógica permitia aos canais à cabo fazerem um recorte mais específico dos seus anúncios e conteúdo. Os pobres, que não podiam pagar a tv à cabo, tinham que se contentar com a TV aberta e seus sitcoms, talk shows e a novidade dos anos 2000, os reality shows.
No final dos anos 1990, a tv à cabo chegou ao Brasil. Nascidos nos anos 1950, os pais da minha geração chegaram a ver o homem pousar na lua e Pelé parar no ar no final da copa de 1970. Eles também viram O Bem Amado, Carga Pesada, Chica da Silva, Roque Santeiro e muitas outras novelas. Viram a queda do muro de Berlin e o polêmico debate entre os candidatos Collor e Lula em 1989, primeiras eleições diretas desde a redemocratização do país. Naquela ocasião, o debate eleitoral era o principal evento de uma campanha eleitoral. Era a chance de ver os candidatos serem desafiados entre si, mas muito além disso, era a chance de conhecê-los “de perto”. Notar os seus trejeitos, o seu linguajar, o tom de sua voz, a maneira que lidam sob pressão. Em 1960, na fatídica campanha de Kennedy contra Nixon, o debate foi marcado pelo fato de Nixon estar suando em birras. O público percebeu e assimilou justamente o que a campanha de Kennedy mais martelava em suas cabeças, que Nixon era um senhor cansado e não um jovem cheio de energia. Em 89, curiosamente, aconteceu o oposto. O suor foi usado a favor de Collor. Como foi confessado pelo próprio diretor executivo da Globo à época, Boni, foi feito um suor artificial no candidato para ele ficar “mais próximo do povo”. Boni também fez Collor entrar no debate com pastas contendo papeis em branco e deixou espalhar para o lado de Lula que nas pastas, haviam acusações contra o candidato petista que o próprio desconhecia. Em vários momentos do debate, Collor mexeu nas pastas para atiçar medo em Lula. Além de tais truques, a edição do debate favoreceu imensamente ao candidato Collor, que foi eleito, mas acabou sofrendo impeachment e não concluiu o seu mandato.
As novelas eram o grande LOP do Brasil. Não só as da rede Globo, mas do SBT, da rede Manchete, da Tv Tupi. O mesmo processo de cultura em massa se dava no Brasil. Todos comentavam as novelas, independente de suas classes sociais. O Brasil, que nos anos 1990 tinha mais de 140 milhões de habitantes, era um mercado de ouro para grandes marcas, tanto nacionais quanto estrangeiras. A televisão brasileira, sempre dominada pelas novelas e talk shows, como os de Silvio Santos e Chacrinha, permitiu que as marcas desenvolvessem grande força publicitária no uso da imagem. A indústria da publicidade tornou-se ultra desenvolvida e hoje é uma das principais do mundo. Mas assim como nos EUA, a cultura de massa passou a dar lugar para a segmentação do público. No início da sua chegada no Brasil, no final dos anos 1990, a TV à cabo exibia quase que exclusivamente conteúdo norte-americano, grande parte que passava na tv aberta americana! Como os sitcoms Seinfeld, Friends, Step by Step e assim por diante. A indústria brasileira só foi vencer isso com a regulamentação da TV, em 2012, que obrigava os canais fechados a exibir conteúdo produzido nacionalmente. Um enorme salto de progresso para o audiovisual brasileiro. Mas a tv à cabo não roubou das tvs abertas grande parte do público até o final da década de 2000. O barateamento e a dublagem de programas facilitou a vida das emissoras fechadas, mas o que polarizou de vez o espectador brasileiro foi a internet e o VOD. Além de poder baixar os conteúdos americanos, o público passou a fazer parte da recepção dos produtos americanos. Não era mais aceitável esperar uma semana para assistir a final de um reality show no Brasil, por exemplo.
Trump vira um Reality Show
A jornada de Donald Trump com a televisão decolou nos anos 1990, quando ele havia criado a imagem do bilionário polêmico. No início dos anos 1980, as suas primeiras entrevistas mostram um homem mais polido e que evitava as polêmicas. Ao longo daquela década, Trump percebeu que aquilo era contraproducente. Ele havia herdado a fortuna de seu pai e não queria passar os seus dias vendendo apartamentos. Tendo crescido assistindo tv nos anos 1960 e 70, ele era obcecado pela imagem. Ele cogitou, inclusive, cursar cinema na faculdade. Agora, em meados dos anos 80, ele já adotara o tom agressivo que virou a sua marca registrada. E caiu nos braços da TV. Ele era o bilionário desbocado, o bon vivant que fazia e falava o que bem entendesse, sem preocupações. Porque como diria Tevye no musical O Violinista no Telhado, “quando você é rico, eles pensam que você realmente sabe!”. E o público, assim se comportava. Todos queriam ser Donald Trump. E ele era o único bilionário que se fazia visível daquela forma. Era a janela que o público tinha para a mente de um homem como aquele, mesmo ele tendo herdado tudo e perdido boa parte do dinheiro nos anos 1990, conforme ele mesmo admitiu no seu seu livro “The Art of Comeback”. A sua relutância que permanece até hoje em liberar os seus retornos financeiros, sempre gerou duvidas em relação à sua fortuna. Mas para ele, não interessava. Porque na tv é assim, a verdade é relativa. Se chamarem ele de bilionário toda vez que seu nome é citado, então ele é o bilionário Donald Trump, mesmo que sua conta bancária não tenha 1 bilhão de dólares.
Nos anos 1990, Trump fez uma porção de aparições em programas e filmes, como em Esqueceram de Mim e Um Maluco no Pedaço. Mas, nos anos 2000, como já foi dito, as coisas estavam mudando novamente. A tv à cabo passava a oferecer conteúdo de altíssima qualidade, a internet criava forums de discussão, os interesses ficavam cada vez mais distribuídos e as aparições de Donald Trump ficaram limitadas a ligações que ele próprio fazia para comentar sobre política, indicando já o seu interesse no assunto. Mas a grande reviravolta veio em 2004, quando um produtor da NBC, canal aberto americano, teve a ideia de fazer um reality show equivalente ao “Survivor” (que no Brasil ganhou versão da Globo como No Limite) só que do mundo dos negócios. Trump era o apresentador perfeito. O show se chamava O Aprendiz (no Brasil ganhou versão com Roberto Justus) e seu formato era simples: um punhado de profissionais competiriam por uma vaga na empresa de Trump. Para isso, eles teriam que se dividir em times e disputar provas e o time derrotado, ao final de cada episódio, sentava numa sala com Trump e o homem que hoje ocupa o cargo mais importante do mundo atiçava uma estridente discussão entre os participantes, decidindo no final quem seria o demitido da semana. “You’re fired!” gritava Trump no final de cada episódio, com prazer. James comenta sobre como Trump, homem pouco letrado e obcecado por poder e imagem, pouco discutia na sala sobre as provas. Ele queria mesmo era atiçar os egos e ver as pessoas brigando entre si, mais ou menos como o personagem Logan Roy faz com seus próprios filhos em “Succession”.
O show, que tinha 2 temporadas por ano, fez de Trump uma celebridade nacionalmente conhecida. Claro que os números não era tão bons quanto ele falava. Assim como fez durante toda a sua campanha e faz durante a sua presidência, ele afirma grandes mentiras que inflam o seu nome e pouco importa a ele e aos seus fiéis a verdade. “O Aprendiz é o show mais assistido da tv”, disse ele repetidas vezes. Mesmo o show chegando a ser o 84o show mais assistido. O melhor que o show chegou a ser foi o 7o mais assistido. Mesmo assim, O Aprendiz permitiu que Trump se tornasse o popstar que ele sempre quis. Ao mesmo tempo, a FOX News lançava outro programa, o Fox and Friends. Um matinal em que pessoas brancas conservadores falavam sobre assuntos diversos, incluindo política. Trump virou quase que um regular no programa, via telefone. Ele ligava e despejava suas opiniões sem escrúpulos, para o delírio dos apresentadores e público. Além da agressividade, do sexismo e do racismo, ele também patrocinava no ar grandes teorias conspiratórias sem ninguém lhe colocar fronteiras. Uma dessas teorias afirmava que o então presidente americano, Barack Obama, não havia nascido nos Estados Unidos e sim em Quênia. A Fox News, claramente desconfortável com o presidente negro, tinha em Trump a comunicabilidade que eles não poderiam ter. O racismo da teoria do nascimento de Obama era a maneira subliminar de toda a classe conservadora americana, liderada pela Fox News, dizer “Nós colocamos um africano, um negro, um ser que até outro dia nem podia votar, no nosso cargo mais importante. Como pode?”. O canal estava construindo o terreno para as eleições de 2016. No começo dos anos 2010, ainda não era claro se Trump se candidataria ou não, mas ele já tornava claro o tom das questões que simbolizariam aquela eleição. Racista, machista, conservadora e segregacionista.
O mundo agora, é fragmentado entre diversos grupos. A televisão agora é fina, barata, com uma imagem excelente e possui mais de 1000 canais. O LOP está morto. Os show mais populares, como Big Bang Theory, Lost, The Walking Dead, faziam na casa dos 20, 30 milhões de espectadores no máximo. Para se ter uma ideia dessa fragmentação, o episódio final de MASH teve 105 milhões de espectadores em 1983. O episódio final de Seinfeld, que em 1998 era o show mais assistido, teve 75 milhões de espectadores. Isso considerando que em 1983 os EUA tinham 230 milhões de habitantes, enquanto em 1998, tinham 270 milhões. Em 2019, 23 milhões de pessoas assistiram o episódio final de The Big Bang Theory. Lembrando que todos esses exemplos são de TV aberta. Ou seja, menos pessoas assistem os shows mais populares. Essa é a grande conclusão do livro de James Poniewozik. A TV passou de o grande hegemonizador nacional, para o grande fragmentador nacional. No título do livro, ele usa o termo “fracturing”, que vem de fratura. A fratura é a quebra do todo. A internet pegou carona no processo de fragmentação começado pela tv a cabo. Quando Trump descobriu o twitter, ele podia ser a tv 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, ele sequer precisava ligar para a Fox News para falar suas atrocidades. Bastava ele despejar qualquer coisa que passasse pela sua cabeça no seu smartphone e pronto, mais fraturas aconteceriam. Quando ele não ligava para o Fox and Friends, eles punham seus tweets na tela. As suas verdades se materializavam como mágica diante de seus olhos. Bastava teclar alguns caracteres. Da internet para a TV e da TV para a internet. Trump e a TV viravam um só. Sua obsessão com a imagem é tanta, que seus aparelhos, sempre ligados, são a unica coisa que prendem a sua atenção – até como presidente. Seus assessores, percebendo isso, vão nos programas que Trump assiste para lhe dar recados, porque sabem que ele ouve mais a tv do que a pessoa de pé ao seu lado dando recados.
O Brasil e o resultado da Fragmentação
Em 1998, Mick Jagger e seus Rolling Stones vieram fazer um show no Brasil. Depois do show, o vocalista foi numa festa com celebridades e aspirantes a celebridades brasileiras. Nessa festa, ele conheceu uma modelo brasileira. A “amizade” entre Luciana Gimenez e Jagger rendeu duas coisas para Luciana: um filho e fama. A modelo passou a figurar nos tablóides nacionais e internacionais como a mãe do filho não reconhecido de Mick Jagger. Eventualmente, ele reconheceu o filho depois de uma batalha judicial acompanhada de perto pelas revistas e programas de fofoca. Luciana era agora uma celebridade internacional. Poucos anos mais tarde, a RedeTv!, canal aberto, buscava uma apresentadora para o seu programa super popular, o Superpop. Após fazer uma votação com a audiência, Luciana, que ficou em sétimo na votação, foi a escolhida para conduzir o talk show. A receita do programa é simples, Luciana convida figuras “extravagantes” e os apresenta diante de sua plateia, questionando sem pudores as suas extravagâncias. Jair Bolsonaro, então deputado federal, era tudo o que Luciana e seus produtores queriam. Alguém de importância nacional – um deputado federal – e completamente desbocado. Bolsonaro, naquele momento dos idos dos anos 2000, não tinha nenhuma pretensão presidencial e sabia seu lugar como a extrema direita de baixo clero da Câmara. Assim como Enéas Carneiro, era nada mais do que um personagem folclórico. Mas, apesar de não ter o mesmo domínio narrativo e o conhecimento midiático de quem cresceu com a Tv, como é o caso de Donald Trump, Bolsonaro agradava a qualquer produtor que queria ibope a qualquer custo. No Superpop, ele era chamado constantemente para fazer o contraponto nas “discussões sobre a questão homossexual”. A baixaria do show de vulgaridades e aberrações de Gimenez é por si só um desserviço à comunidade LGBT só por ter a mesma citada como tema do programa.
Outros programas da tv aberta passaram a se utilizar da aberração Bolsonaro também, como o CQC. Buscando se vender como “comédia de qualidade”, o programa de Marcelo Tas era um Superpop fingindo ser descolado. Naturalmente, Bolsonaro ganhou seu espaço no programa. Sempre que o programa precisava de injúrias raciais ou homofóbicas, bastava ligar para o deputado. Acontece que, naquele momento, a fragmentação da sociedade brasileira, trazida pelo crescimento da tv à cabo e a enorme simpatia do brasileiro com as redes sociais, já estava consolidada. Personagem folclórico para uns, comediante para outros, heróis para alguns e vilão para outros. Não importa. O que importa é que todos assistiam e compartilhavam os clipes de Bolsonaro soltando suas atrocidades. Foram buscar materiais até mais antigos, dos anos 1990. Para uma parcela da população, Jair Bolsonaro passava a virar um “mito”. Quando, no período de 2014 – 2018 o país entrou em enorme crise política, a história cumpriu o seu curso e a “alternativa” emergiu como hipótese. A polarização, conforme foi visto nos EUA e na Inglaterra, abria a porta para os pedaços mais peculiares da fratura da sociedade ganharem espaço. Até um mês antes do 1o turno da eleição, ainda se fazia sentir no país um clima de que “não era possível que Bolsonaro fosse ganhar”. Mas com o prazo chegando, a polarização foi silenciosamente tomando seu lado e a vitória por pouco não foi efetivada no 1o turno.
Conclusão
Recentemente, a TV Globo lançou o remake da novela Éramos Seis. Na tv, o maior canal brasileiro está soltando os capítulos diariamente. No seu serviço de Streaming, o Globo Play, a novela foi liberada na íntegra. É uma tentativa da Globo de resgatar a força LOP. Além do conteúdo ser bastante LOP, a disponibilidade em ambas plataformas permite que uma grande variedade de pessoas que se fragmentaram, encontrem-se através do conteúdo. Pela primeira vez em mais de uma década, vemos pessoas de classes sociais diferentes conversando sobre novela. No entanto, está claro que nenhum programa é LOP o suficiente para ser o que jamais foi. Mesmo que haja essa “união de plataformas”, a crescente quantidade de plataformas de streaming, somados à migração das tvs fechadas para o VoD, fazem com que a fragmentação só tenda a aumentar. Sendo assim, figuras simbólicas como Trump e Bolsonaro, viram porta-voz de grupos que há trinta anos atrás não conseguiam ter voz ativa no mainstream. Mas hoje, o mainstream mudou. Ele passou a ser uma característica exclusiva do consumo. Um cantor, um tênis, um destino, podem ser mainstream. E diferentes pessoas, se utilizam dos mesmo produtos. James Poniewozik escreve que, diferentemente do que escreveu George Orwell, e idêntico ao que escreveu Aldous Huxley, o controle de uma população do futuro não se daria por uma agressiva repressão, mas sim por um enorme sistema de prazer. A repressão é insustentável, a dor tem um limite. Já o prazer não, ele deixa as pessoas confortáveis, felizes e vulneráveis.